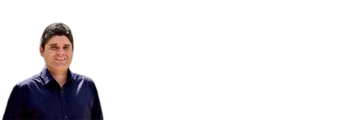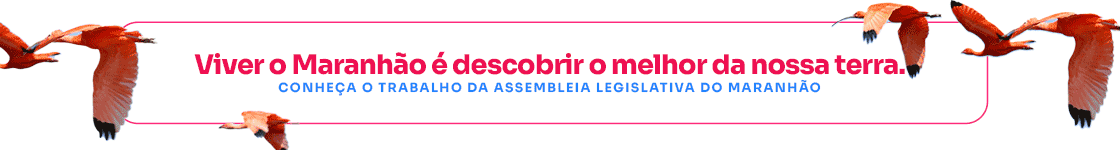Uma das expressões em inglês que acho mais difíceis de verter mantendo a graça do original é “hatchet job”. É chatinha de traduzir, mas fácil de entender: hatchet é machadinha, e aquilo que os anglofalantes chamam de “trabalho de machadinha” é “ataque cruel, escrito ou falado, a alguém ou algo”, conforme a definição do Cambridge Dictionary. Pois bem, não conheço melhor —ou mais divertido — hatchet job em português brasileiro do que a demolição a que Millôr Fernandes, que teria completado 100 anos na última quarta (16), submeteu Brejal dos Guajas, obra literária do imortal bigode de José Sarney.
Publicado em janeiro de 1988 no Jornal do Brasil, o texto estava num saite (grafia preferida do humorista) que saiu do ar, o Millôr Online, mas ainda pode ser encontrado em alguns desvãos da internet. É difícil resistir à tentação de citar a íntegra do hatchet job (diatribe, invectiva, descompostura etc. — escolha sua expressão favorita). Millôr começa se dizendo enganado pelos amigos dele que juravam que o que Sarney escrevia era bom. “Por isso, fui reler o Brejal dos Guajas com mais atenção. Fiquei estarrecido. Não se pode confiar o destino de um povo, sobretudo neste momento especialmente difícil, a um homem que escreve isso. Não tendo no cérebro os dois bits mínimos para orientá-lo na concordância entre sujeito e verbo, entre frase e frase, entre ideia e ideia, como exigir dele um programa de governo coerente pelo menos por 24 horas?”
O trabalho da machadinha prossegue: Sir Ney — que era o ocupante daquela cadeira no Palácio do Planalto, lembrem-se — escreveu um livro que, “em qualquer país civilizado”, seria motivo para impeachment. Leu umas 20 páginas de Jorge Amado, umas cinco de Guimarães Rosa e acabou com uma “indigestão na cabeça”. O livro “não tem uma frase que não seja errada em si mesma ou incoerente em relação a outras mais adiante ou mais pra trás”. “Descoordenado motor (incapaz de se agachar e tirar a etiqueta de um sapato), Sir Ney é mais descoordenado como pensador.” Um parágrafo descreve o enredo deste jeito:
“A cidade, que não tem escola, tem professora e alunos, não tendo telégrafo transmite telegramas, não possuindo edifícios públicos tem prefeitura, câmara de vereadores, juizados de casamento, dois cartórios, ostenta uma força policial de pelo menos 12 homens (relativamente, o Rio teria que ter uma força policial de quase meio milhão de policiais), é dominada por dois primos por pais diferentes (!!!!), ‘ricos e poderosos’, e, tendo só duas ruas (quase uma impossibilidade urbanística; eu sei como desenhar uma cidade de duas ruas, ele não sabe), tem duas orquestras (ele quer dizer bandas), e comporta ainda mercado, lojas, igrejas matriz etc. O verdadeiro milagre brasileiro! (…) Essas duas espantosas ruas de 120 casas (com o que Sir Ney quer significar um vilarejo perdido do mundo), por meus cálculos matemáticos irrefutáveis, abrigam uma população de 15.272 pessoas, o que faz do Brejal em 1945, época da istória, talvez a maior cidade maranhense, depois de São Luís.” A demolição segue: “Ou isso é o mais maravilhoso realismo mágico de que eu jamais tive notícia, obra esfuziante de um gênio que só vai ser compreendido daqui a séculos, ou estamos diante da mais espantosa incapacidade de expressão da literatura universal.”
Enfim: cacem a íntegra, leiam e lembrem-se de que Sarney ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Letras há quase 43 anos — coisa de que Millôr jamais passou perto, talvez porque jogar frescobol de fardão fosse meio incômodo. Aplica-se plenamente a Milton Viola Fernandes, transformado em “Millôr” pelos garranchos do escrivão que o registrou, aquela piada que os argentinos costumam fazer sobre Carlos Gardel cantando: morto em 2012, o Irritante Guru do Méier escreve cada vez melhor — é só comparar com o que há em volta hoje (no Bananão, a tradição é que o humor burro seja mais inteligente que o “humor inteligente”; Millôr é das raras exceções). E, além de escrever, desenha cada vez melhor: teria reconhecimento mundial como alguém no nível de James Thurber ou Saul Steinberg se tivesse nascido falando a língua do imperialismo ianque.
Claro, não é uma unanimidade; nem Machado de Assis o é (Millôr não gostava do Bruxo do Cosme Velho, o que na igreja de Ruy Goiaba conta como heresia). Aqui mesmo, nesta edição da Crusoé, meu amigo Alexandre Soares Silva escreve sobre o sono que algumas frases do guru provocam nele até hoje. Os exemplos pinçados pelo Alexandre são bons, mas confesso que ainda gosto de coisas como “Brasil, país do faturo”. Ou daquela definição dele para o comunismo (“uma espécie de alfaiate que, quando a roupa não fica boa, faz alterações no cliente”).
E gosto sobretudo daquela frase que já repeti tantas vezes aqui, e outros já repetiram tantas outras vezes, que se tornou quase um truísmo: “imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados”. Hoje tem gente muito incomodadinha com o que considera abuso dessa citação. Explica-se: a frase fazia sentido no Pasquim, como resposta aos feios, sujos e malvados da ditadura militar, mas não agora que vivemos nesta esplendorosa democracia governada pelo Deus Sol. Pois ela continua verdadeiríssima — neste governo, nos anteriores e nos que estão por vir. Lamento dizer a alguns coleguinhas que não dá para manter a credibilidade profissional e, ao mesmo tempo, ser capacho do Lula (ou do Bolsonaro, ou de qualquer político): vocês continuarão sendo aquilo em que o cliente limpa seus sapatos antes de entrar no armazém. Um viva para o Millôr. (Da Revista Crusoé)